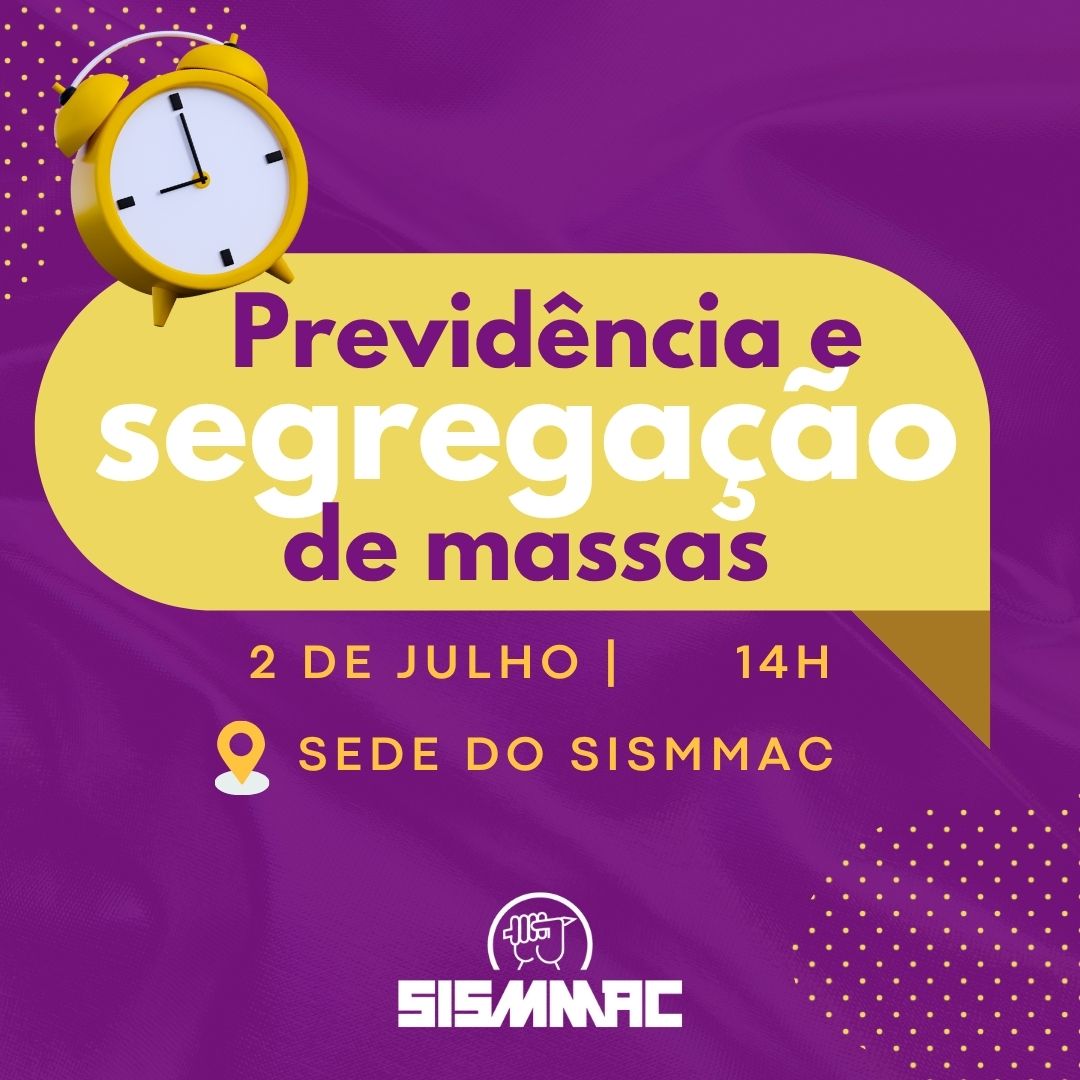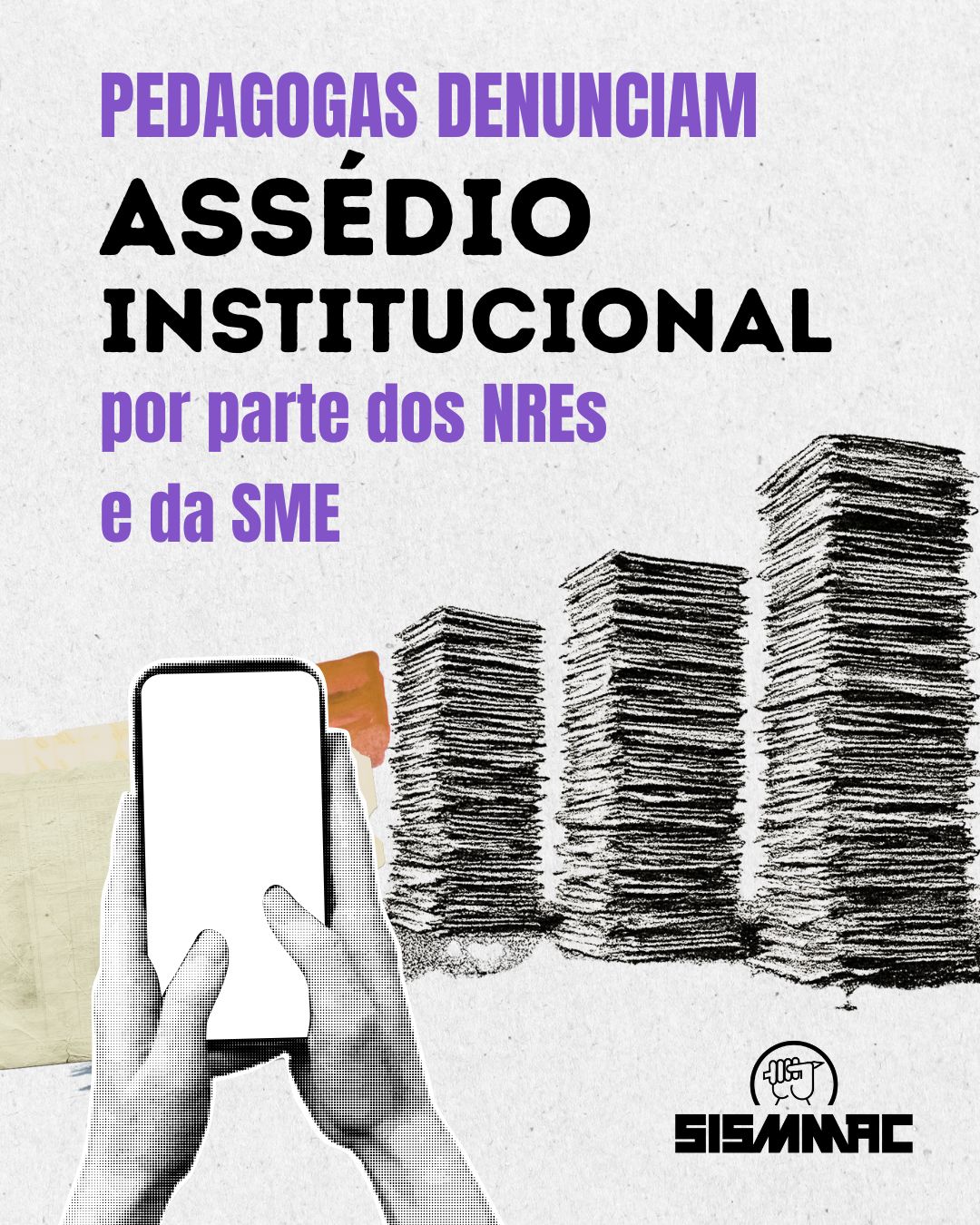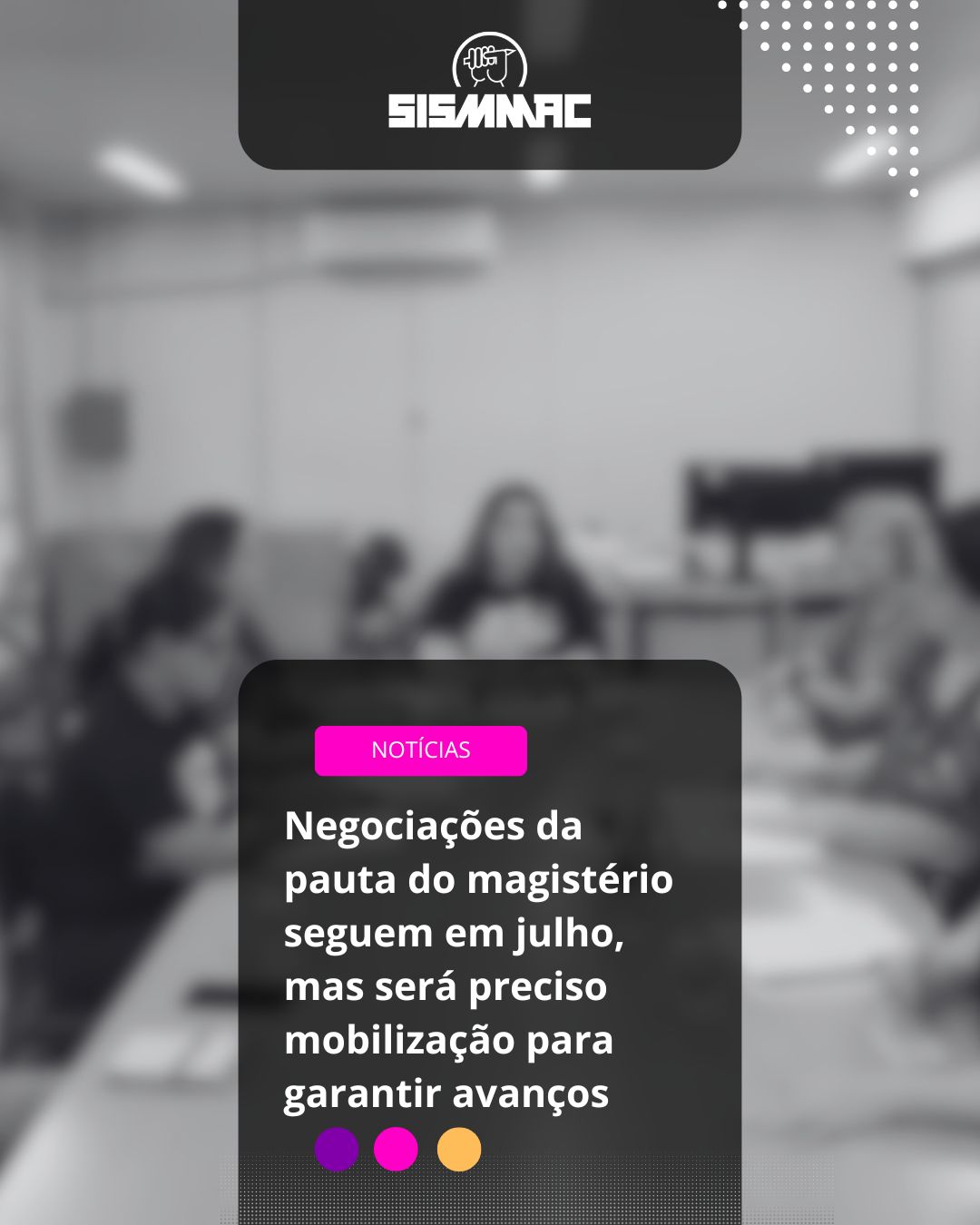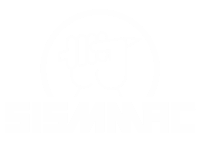Excesso de trabalho, salários baixos, violência e falta de reconhecimento fazem a carreira de professor cada vez menos atraente para quem quer ingressar no mercado de trabalho. E agora, para o governo paulista, ele é responsável pela baixa qualidade do ensino
Por Brunna Rosa e Glauco Faria
Revista Fórum – Pode-se dizer sem nenhum exagero que os profissionais da educação de São Paulo sofreram um verdadeiro bombardeio por parte da mídia. São inúmeras as matérias que saíram em veículos de comunicação impressos e também televisivos atribuindo a culpa da situação caótica do sistema de ensino do estado aos professores.
Para variar, o carro-chefe da nova campanha é a revista Veja. Na edição 2047, de 13 de fevereiro, a secretária estadual de Educação de São Paulo, Maria Helena Guimarães de Castro, concedeu uma entrevista em que vaticina: “Num mundo ideal, eu fecharia todas as faculdades de Pedagogia do país, até mesmo as mais conceituadas, como a da USP [Universidade de São Paulo] e a da Unicamp [Universidade de Campinas], e recomeçaria tudo do zero”. Este, para a secretária, seria o caminho para melhorar o nível da educação.
Para ela, um dos maiores problemas da deplorável situação da educação em São Paulo é o insatisfatório nível profissional dos professores. “As faculdades de Educação estão muito preocupadas com um discurso ideológico sobre as múltiplas funções transformadoras do ensino”, prossegue, para concluir em seguida: “Essas faculdades apenas perpetuam baboseira ideológica”. Na mesma edição, o economista Claudio de Moura Castro escreve um artigo chamado “Salário de professor”. Segundo ele, os docentes brasileiros possuem remuneração compatível com a realidade empregatícia nacional. O articulista conclui que os sistemas públicos se tornariam mais eficazes se “conseguissem criar um ambiente mais positivo e estimulante”.
“É algo absurdo dizer isso, até porque ela tem responsabilidade, já que é professora universitária”, atesta Maria Aparecida Perez, ex-secretária de Educação da cidade de São Paulo e uma das idealizadoras dos Centros de Educação Unificados (CEUs). “A universidade tem uma distância em relação ao que acontece escola, é preciso que se estabeleça um vínculo mais estreito com o mundo real, mas isso não significa que as faculdades tenham que ser fechadas. Vão fechar as faculdades de História e Geografia também?”, ironiza.
Helena de Freitas, professora aposentada da Unicamp e presidente da Associação Nacional de Formação de Professores (Anfope) segue a mesma linha. “Em primeiro lugar devo dizer que a Maria Helena revela seu total desconhecimento do contorno institucional da formação e dos problemas dele decorrentes. A raiz dos problemas da formação está justamente na organização do ensino superior e na organização institucional hoje existente no Brasil, que permite que a formação de professores se desenvolva em faculdades isoladas e institutos superiores de educação que não têm entre suas funções a pesquisa e a investigação sobre a escola, o ensino e a educação”, esclarece.
Se a entrevista ganhou destaque e até um discurso que apóia as suas posições, isso não ocorre à toa. “A mídia trata o professor como marginal porque não vê a realidade da sala de aula”, indigna-se um professor da rede estadual do Jardim Miriam, zona Sul de São Paulo. Ele cita diversos casos de violência de alunos contra professores que ocorreram na escola onde trabalha. Dentre as ocorrências, há desde docentes atingidos com saco plástico contendo fezes e urina, passando por situações de agressão verbal e física.
Na prática, esse é o cotidiano comum dos docentes da rede estadual de ensino. Segundo pesquisa realizada em 2006 e publicada em 2007 pelo Sindicato dos Professores da Rede Pública do Estado de São Paulo (Apeoesp), dos 684 professores entrevistados, 96% citaram agressão verbal como a forma de violência mais comum nas escolas. Já 88,5% presenciaram atos de vandalismo; 82% viram atos de agressão física e 76,4% casos de furto.
Portanto, casos que têm repercussão na imprensa, como o ocorrido em Ribeirão Preto, a 314 km de São Paulo, quando uma aula terminou em agressão, não são tão raros. De acordo com a vítima, uma professora que não quer se identificar, ela pediu a um aluno que estava atrapalhando a aula para deixar a sala. “Na hora em que saiu, fui fechar a porta, ele pegou e veio com agressão. Ele já veio dando soco. Primeiro, um soco na minha boca. Eu corri, aí me deu uma rasteira e me jogou no chão, me ameaçou, jogou a cadeira contra mim”, contou à imprensa.
Conforme nota divulgada para a imprensa, a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo diz que o número de agressões diminuiu de 210 em 2005 para 180 no ano passado, no universo de 250 mil professores, e desdenha do estudo da Apeoesp por não ter um número significativo. Contudo, professores ouvidos por Fórum afirmam que, em diversos casos, a diretoria de ensino “orienta” o professor a não registrar casos de agressão, o que, obviamente, ajuda a tornar os dados mais palatáveis.
Salário para quê?
Para a secretária de Educação, na entrevista concedida à Veja, é um mito afirmar que o aumento salarial dos professores ou a definição de um plano de carreira influenciariam na melhoria do ensino. Na sua opinião, melhores condições de remuneração não resolvem o problema. A menos que isso esteja vinculado a uma “política de reconhecimento do mérito”. Por isso, a secretária pretende pagar bônus a todos os que em uma escola – funcionários, professores e diretor – “levarem” os alunos a alcançar determinadas metas de bom desempenho. Os bônus poderão chegar a três salários por ano.
A afirmação da especialista é contestada por quem trabalha na área há 25 anos. “Existe uma regra que diz que os bônus têm a ver com a freqüência e com índice de reprovação, mas os bônus são diferenciados, para o diretor, coordenador e professor”, indigna-se H., educadora da rede estadual de São Paulo, que não quis se identificar por receio da lei nº 10.261/68. A lei está presente no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do estado e impede a livre expressão dos servidores públicos por meio da imprensa ou qualquer outro meio de divulgação. Ela avalia a situação da educação paulista, em relação ao que era antes da implantação do sistema de bonificação, como “muito pior”. “O tipo de estímulo que eles queriam, eles conseguiram. O professor não falta, vai à escola com 40 graus de febre e fica quietinho na sala, não reprova mais ninguém, para ganhar os bônus”, critica. “Não há mais planejamento pedagógico, tudo é criado para ter o bônus”.
Outro dado lembrado pela educadora é um artifício que vem sendo usado por diversas escolas para assegurar o bônus, que está atrelado ao número de desistências dos alunos. Para melhorar esse dado, várias unidades aplicam o estratagema das transferências compulsórias. “O aluno não está sabendo, ele desiste das aulas, mas não é computada sua evasão porque a escola aplica transferências compulsórias, e no ano que vem seu nome vai aparecer novamente em alguma lista, em alguma escola”, aponta H.
“O grande problema é não olhar a escola como um projeto coletivo. Não se pode penalizar um professor e bonificar o outro. É preciso avaliar o sistema e ver se ele propicia as melhores condições para o professor cumprir seu papel”, esclarece Maria Aparecida Perez. “Comparar uma escola a uma fábrica, pensando apenas em produtividade é equivocado, educação não é assim. Mesmo a fábrica necessita de altos investimentos para aumentar sua eficiência, por isso a secretaria não pode se eximir de suas responsabilidades”, aponta.
“É um processo de requentar uma política que já vem sendo adotada no estado de São Paulo há 13 anos, de prêmios e gratificações. E não de reajuste nos salários. Não é um posicionamento que visa melhorar a escola pública, mas uma medida economicista, pois são poucos os que recebem o bônus e o salário continua baixo”, acusa Carlos Ramiro de Castro, presidente da Apeoesp. “Se o salário não é suficiente, o professor tem de lançar mão de uma dupla, tripla jornada para poder sobreviver. Ao invés de dar prêmios, o governo deveria construir um Plano de Carreira onde o professor possa evoluir e sinta esta evolução por meio de sua produção, atualização”, completa.
Na prática, esse tipo de medida como a bonificação está relacionada a um ideário neoliberal que norteia as ações não apenas em São Paulo, mas em outro lugares do mundo. “A situação atual tem suas raízes no processo de enxugamento do Estado, retirando-o do financiamento da educação pública, fundamento das políticas de caráter neoliberal implementadas na década de 90 em nosso país e em toda a América Latina. Isso produziu a maior desigualdade educacional já vista e a degradação das condições de vida e trabalho dos professores”, sustenta Helena de Freitas. “Não temos ainda um Plano Estadual de Educação e nem mesmo planos municipais em cada um dos mais de 5 mil municípios. Os sistemas de ensino, com raras exceções, ainda não implementaram uma carreira do magistério, com piso e jornada única em uma escola, que valorize o trabalho pedagógico entre professores e estudantes, sua formação humana integral e dos demais profissionais da educação”, completa.
Ao contrário do que acredita a secretária paulista e a revista Veja, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no estudo “Estatísticas dos Professores no Brasil”, a profissão de professor é considerada uma das que possuem menor rendimento mensal no país. “A profissão em destaque é a de juiz, com um rendimento médio de quase 20 vezes o valor do rendimento médio mensal do professor da educação infantil”, avalia o estudo e recomenda “tornar uma profissão mais atrativa requer, entre outros fatores, a possibilidade de obtenção de bons salários”. Parece óbvio, mas os burocratas que anseiam pelo fechamento das faculdades de Educação parecem não querer enxergar…
O esgotamento do professor
Em 1999, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), junto com a Universidade de Brasília (UnB) e seu Laboratório de Psicologia do Trabalho, realizou uma importante pesquisa para a educação brasileira. A pesquisa entrevistou 52 mil educadores em 1.440 escolas, e cruzou e analisou os dados. O estudo foi apresentado por meio do livro Educação: Carinho e Trabalho – Burnout, a síndrome da desistência do educador, que pode levar à falência da educação, com informações alarmantes que comprovam: os educadores estão ficando doentes.
A síndrome do esgotamento profissional, conhecida como Síndrome de Burnout, foi batizada nos anos 70. O nome vem da expressão em inglês to burnout, ou seja, queimar completamente, consumir-se, e está presente nos profissionais que, em geral, lidam diretamente com pessoas e demandas variadas. É comum entre médicos, enfermeiros, policiais e, é claro, professores. Segundo a pesquisa realizada pela CNTE, 48% dos entrevistados apresentavam algum sintoma da síndrome. Apesar de a pesquisa ter sido realizada há nove anos, suas constatações são atuais e, segundo o sindicato, não se tem informações de qualquer pesquisa realizada com essa dimensão em outros países.
“O sistema escolar transfere ao profissional a responsabilidade por cobrir as lacunas existentes na instituição, a qual estabelece mecanismos rígidos e redundantes de avaliação profissional”, explica Sandra Gasparini, que pesquisou a incidência dos pedidos de licença médica no Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG. Um levantamento realizado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), em novembro do ano passado, comprova que quase 80% dos professores do país se sentem desvalorizados pela sociedade.